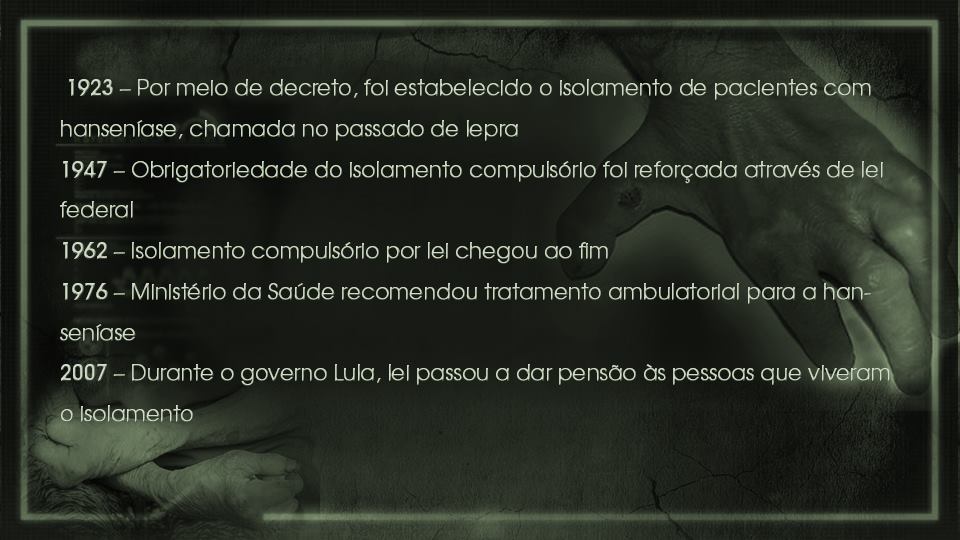Maria José em sua casa no bairro da Mirueira. Foto: Rafael Bandeira/LeiaJáImagens
##RECOMENDA##
A aposentada Maria José Nascimento, 71, hoje vive cercada de seus oito filhos. Embora muitos tenham casado e constituído família, eles não saíram das redondezas do bairro onde vive a mãe. Ela gosta de ter todos eles próximos para se reunirem nos fins de semana, na laje de um dos filhos. O desejo de manter essa proximidade com os herdeiros remonta às décadas passadas, em que foi obrigada a se afastar dos maiores amores de sua vida ao ser diagnosticada com hanseníase.
Maria José é natural de Escada, cidade localizada na Zona da Mata Sul de Pernambuco, distante 60 quilômetros do Recife. Trabalhou por muitos anos na roça, capinando e plantando principalmente macaxeira e batata. De família humilde, casou-se ainda muito jovem e foi morar no Recife ao lado do esposo. Com ele teve nove filhos; posteriormente, um deles faleceria. A aposentada lembra que não tinha boas condições financeiras para cuidar da saúde e começou a sentir fortes dores no corpo ainda jovem.
Foi em diversos hospitais, postos e clínicas e ninguém sabia o que ela tinha. As dores não eram constantes, ela apareciam em períodos e podiam sumir, também. "Sentia um formigamento, parecia que tinha algum bicho andando pelos meus braços, sabe. Era um queimor danado", descreveu a aposentada.
O marido decidiu que a família se mudaria para o Rio de Janeiro por mais opções de trabalho. Mesmo com dores, Maria José ficou alguns meses por lá trabalhando como doméstica nas casas de família. A viagem não fez bem. Os fortes sintomas voltaram e ela não conseguia sequer andar. Ficou de cama e os seus ossos doíam bastante. Os filhos ajudavam a dar banho, preparar a comida, mas todos queriam saber qual a solução para tamanho sofrimento da mãe.
O companheiro dela a abandonou e mandou todos de volta para o Recife. Na capital pernambucana, Maria foi instruída a procurar o Hospital da Restauração, referência em tratamento médico na Região Metropolitana do Recife. Não demorou muito para que de lá ela fosse transferida para o Hospital Geral da Mirueira, em Paulista, também chamado Sanatório Padre Antônio Manuel, na época. O diagnóstico confirmou a hanseníase, então lepra. Ela não sabia o que era a doença e nem desconfiava da existência do leprosário, local onde os pacientes eram isolados da convivência externa.
A colônia da Mirueira funcionava como uma micro-cidade e foi fundada em 1941 para atender às recomendações do Serviço de Profilaxia da Lepra. Projetado com ruas, praças, templo religioso, prefeitura, escola, área de lazer, além dos complexos médicos necessários, o local era símbolo do isolamento social dos acometidos pela doença em Pernambuco.
"Em Mirueira, sítio pitoresco, que fica em Beberibe, no extremo da zona rural do Recife, o govêrno nacional construiu uma cidade, provida de todas as instalações necessárias para o fim humano a que se destina. Parques de diversão, cinema, campos de cultura, a vida que se pode viver nas grandes cidades, fora dos recolhimentos e dos hospitais, em contacto com a natureza e a civilização, os doentes vão ter ali".
No dia 9 de julho de 1941, o jornal Folha da Manhã publica a nota acima acerca das obras de construção do Hospital-Colônia da Mirueira, inaugurado 17 dias depois, em 26 de agosto de 1941.

Fotografia antiga do Hospital da Mirueira. Foto: Acervo do Hospital Geral da Mirueira
Em 1970, quando chegou ao hospital, Maria José acrescenta que se assustou com o que viu. As pessoas estavam muito piores do que ela, muitas delas já deformadas, sem membros e fragilizados psicologicamente. O ambiente do hospital, por ser isolado, facilitava com que ela conhecesse a fundo a realidade de outros pacientes que por ali estavam há anos, muitos desde jovens.
"Muitos diziam a versão bíblica de que era um castigo para o corpo, outros falavam que era um problema de saúde herdada da família e diziam que era muito contagioso. Muita desinformação", lamentou Maria.
Ao descobrir do que se tratava a “lepra”, parte de sua família virou as costas e não ofereceu suporte. Ela só tinha o pai e a mãe, essa última doente de cama e sem condições de oferecer muita ajuda. O pai foi o responsável por acolher as nove crianças no interior do Estado enquanto ela estava internada sem poder ter contato com ninguém do mundo externo.
“Meu pai não ganhava bem, não era aposentado e nada. Trabalhava no interior para cuidar de tudinho. Ele me disse que ia mandar cada um para uma casa de parente distante porque ele não tinha como dar comida e cuidar, precisava trabalhar. Me desesperei achando que nunca mais ia encontrar meus filhos”, relembrou Maria José.
A filha Maria de Fátima Santana, hoje com 50 anos, foi levada com o irmão Ronaldo para a casa de um parente distante no Engenho Jundiá, nas proximidades da cidade de Escada. Ela tinha dez anos e diz que apesar de tentar apagar as memórias ruins daquele tempo, elas ainda são vivas e presentes. “Meu avô dizia assim, ‘Eu não quero dar vocês não, mas a mãe de vocês está muito mal, de cama. Vou ter que espalhar vocês pelo interior’. Eu fui para a casa do irmão do meu avô e os outros foram sendo distribuídos. Não dava para a gente encontrar o outro porque era muito distante”, contou.
Ela relembrou que a família humilhava os filhos porque tinham medo deles terem a doença também. “Eu sofri muito nessa casa, trabalhava demais e ouvia muita coisa ruim”, lamentou ao relatar sobre o início da adolescência. Abuso sexual, espancamento e falta de carinho. Dos dez aos treze anos foi assim. Separados da mãe e sem perspectiva de um reencontro.
Outro filho de Maria José, o vigilante Paulino Santana, 45, tinha apenas sete anos quando precisou deixar os braços da mãe para que ela fosse se tratar da doença. Não entendia bem o que estava acontecendo e passou a viver com um "estranho" tendo apenas um irmão mais novo como vínculo familiar.
O 'tutor' os obrigava a roubar frutas da casa do vizinho e os espancava com frequência. "Eu tive que fugir um dia. Não aguentei mais. Saí correndo por dentro do mato quando vi ele bater muito no meu irmão. Entrei dentro das canas sem nem saber onde ia parar. Saí em outra parte do engenho e fui parar na casa de uma tia distante. Pedi pelo amor de deus para me esconder em baixo da cama dela e prometi que não daria trabalho", frisou Paulino.
A tia dizia que não podia ficar com ele porque se o marido soubesse ia mandá-lo de volta para a casa de onde veio. Ele se escondeu por muito tempo e aos dez anos o dia mais feliz de sua vida chegou.
Maria José deixou o hospital e foi visitar os filhos no interior. Ela ainda não estava totalmente bem da saúde, mas conseguiu a licença. Fez a promessa a todos de que assim que estivesse melhor e com uma casa viria buscar todos e o pesadelo acabaria. O reencontro foi muito doloroso para Maria de Fátima. Ela não queria deixar a mãe retornar ao hospital. "Eu queria tanto voltar com ela, estava cansada daquele tratamento desumano".
Maria José voltou e começou a trabalhar no Hospital Geral da Mirueira. Ela se tratava lá e também prestava serviços. "Naquela época só quem trabalha lá eram os doentes porque ninguém sadio queria esse contato com os leprosos, eles chamavam a gente assim. Mas quase não recebia o salário direito, vivia das doações", relembrou.
Pouco tempo depois, o Frei Guido, um dos admistradores e um dos religiosos mais respeitados na luta contra a hanseníase, doou uma casa no bairro da Mirueira para Maria José. A casa não tinha piso, nem móvel e ainda precisava ser melhor estruturada para servir de moradia. Ela não quis saber. No mesmo dia voltou ao interior e foi buscar todos os filhos. Ela destaca que os mais novinhos nem se lembravam mais dela. Mas trouxe um por um.
"Foi o dia mais feliz da minha vida", garantiu Maria de Fátima. A família permanece morando no bairro da Mirueira atualmente. As consequências do afastamento afetaram a vida daquela família. Os filhos não tiveram acesso a uma educação de qualidade e até hoje sentem as sequelas disso. "A gente tinha que trabalhar para ajudar a mãe e para ter comida dentro de casa, não dava tempo de estudar", confirmou Paulino.

Maria José ao lado de quatro filhos. Foto: Rafael Bandeira/LeiaJáImagens
[@#video#@]
A agente de saúde Eliene Alves, 50, trabalha para a Prefeitura do município de Paulista há trinta anos. Entrou na área da saúde porque passou em um concurso público e era uma oportunidade de ter uma maior estabilidade. Na profissão, buscou se especializar no tratamento contra a disseminação da hanseníase.
O principal motivo foi porque ela nunca conheceu o seu pai, Anastácio José. Ele era doente e foi praticamente arrancado da família para ser internado na Mirueira. Quando ele morreu ela tinha 13 anos e nunca pode dar um abraço sequer.
A irmã mais velha, Josefa da Silva Falcão, 61, ainda teve o privilégio de conviver alguns anos com seu pai. Apesar disso, também carrega as memórias que insistem em nunca sair da mente. "Tiraram o meu pai da nossa família sem nem perguntar a ele o que queria fazer e como", criticou a doméstica.

Josefa e Eliene, as irmãs. Foto: Rafael Bandeira/LeiaJáImagens
Ela era jovem quando Anastácio foi diagnosticado com hanseníase e esperou por um reencontro que nunca aconteceu. Visitava o pai no hospital mas o contato era praticamente proibido. Como ele era o responsável por sustentar a família, a mãe de Josefa decidiu se mudar para o Recife porque poderia morar no Instituto Frei Guido, na época um colégio criado pelo religioso para filhos de hansenianos.
"Viemos todo porque e mãe trabalhava lá e a gente praticamente morava", acrescentou. Josefa chora ao lembrar das humilhações que passou apenas por seu pai ser doente. Os maus tratos começavam logo da família mais próxima, sem deixar que eles brincassem com os primos porque tinham medo da doença contagiar todo mundo. "Meu pai sofreu muito e a gente também. Ele não aceitava estar lá e não queria", complementou Josefa.
Eliene não coleciona memórias do pai que nunca conheceu. Hoje ela atua na organização de reuniões com filhos separados que desejam receber uma indenização do governo federal. Conhece o bairro da Mirueira desde nova e busca sempre conscientizar a população sobre os cuidados que devem tomar caso desconfiem que estão doentes.

Josefa segura a única fotografia do seu casamento que o pai Anastácio aparece. Ele está do lado direito da imagem. Foto: Rafael Bandeira/LeiaJáImagens
Cerca de 30 mil casos de hanseníase são registrados por ano no Brasil. Esses números colocam o país como o segundo lugar com mais casos da doença, atrás apenas da Índia, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar do avanço no tratamento do hanseniano no Brasil, o medicamento até hoje não promoveu a erradicação da doença. Uma das razões apontadas por Eliene é o preconceito associado à hanseníase.
"Eu sei que hoje diminuiu muito o estigma de um hanseníano. Mas aquelas pessoas que foram acometidas no passado não conseguiram se inserir na sociedade. E aí os filhos também tiveram essa dificuldade. É uma herença muito negativa e precisamos reverter isso. Aqui em Paulista, em janeiro, fazemos uma espécie de passeata com música em busca de desmistificar o hansen e pedir mais respeito", explicou Eliene.
Ela também analisou a diminuição do preconceito com relação ao bairro da Mirueira. Antigamente, por sediar o hospital, o local era alvo de muitos comentários negativos. Hoje não mais", agradeceu.
[@#podcast#@]
Clique nas fotografias abaixo para ter acesso às reportagens:
"O passado presente presente e a dor do afastamento pela hanseníase"

"Helena Bueno, afastada de seus pais no dia do nascimento"

"Maus-tratos e abusos eram práticas comuns no orfanato"

"Me chamavam de filho de leproso safado", lamenta idoso

"Isolamento desnecessário não controlou surto de hanseníase"